segunda-feira, 13 de setembro de 2010
Simancol
domingo, 29 de agosto de 2010
Leitura e sociabilidade na era dos ebooks
O texto aborda os ebooks por um viés não muito usual, qual seja o da relação entre sociabilidade e práticas de leitura. É sabido que, ao longo da chamada Idade Moderna, a migração dos livros para códices mais portáteis e o avanço da alfabetização - que tornou as pessoas menos dependentes da leitura por um terceiro - encaminharam essa atividade para uma prática cada vez mais solitária. Surgiu desse modo o clichê do “rato de biblioteca”, ensimesmado, antissocial.
Abrir um livro na sala de espera do dentista ou no metrô é passar uma informação tácita: “Estou ocupado. Não me perturbe”.
O artigo de Considine parte do testemunho de um usuário do iPad. De acordo com ele, as pessoas, ao vê-lo utilizando o aparelho, sempre se aproximam em busca de detalhes, o que não aconteceria quando porta livros convencionais, “feitos de árvores mortas” (expressão constante da tradução de Clara Allain, para a Folha, inexistente na do Estadão). Assim, livros eletrônicos favoreceriam a sociabilidade.
 Its a Book-Lane Smith. In: osilenciodoslivros.blogspot.com
Its a Book-Lane Smith. In: osilenciodoslivros.blogspot.comA observação, a meu ver, é de uma ingenuidade crassa. As pessoas se interessam porque se trata de uma gadget ainda muito recente, uma novidade tecnológica que vem alimentando os sonhos de consumo de muita gente. Acontecia isso com os telefones móveis em seus primórdios, mas agora ninguém faz isso, a menos que se trate de um aparelho muito diferente, capaz de atiçar a curiosidade e o espírito consumista de quem está ao redor. Veja-se, nesse sentido, também, o uso de instrumentos portáteis de audição musical, como o Ipod. Eles também mandam uma mensagem de “estou ocupado, não me perturbe”, fortalecida no caso pelo isolamento sonoro que o fone de ouvido pode trazer – e que pode existir também em futuros leitores digitais em que as pessoas ouçam música enquanto lêem.
Descontado o interesse pela novidade em si, o papel de chamariz, de “provocador” social, parece-me muito mais próprio do livro convencional, que quase sempre tem uma capa apta a identificá-lo para quem está ao redor e que funciona como uma espécie de cartaz publicitário portátil. Num leitor eletrônico isso não acontece. Ele faz propaganda de si mesmo e não do livro que veicula. Se vejo uma pessoa lendo, por exemplo, Walter Benjamin ou uma história em quadrinhos bacana, sinto-me tentado a conversar com ela. Se lê Paulo Coelho, livros de autoajuda baratos ou qualquer outra coisa que não faça parte de meu horizonte de interesse, posso até me sentir eventualmente tentado a aproximar-me dela, mas por outros motivos que não o livro que carrega.
Assim, certamente não é esse o melhor caminho para abordar a relação entre livros digitais e práticas de sociabilidade. A novidade é efêmera. Comprar literatura para encher um kindle somente será “ in” por pouco tempo. Por outro lado, é possível constituir clubes de leitura de Jane Austen, Machado de Assis ou Shakespeare, bem como de fãs do iPad ou do Kindle, mas, convenhamos, a riqueza de interações possíveis é bem maior no primeiro caso do que no segundo. Não importa se lemos Orgulho e preconceito em inglês ou traduzido, em capa dura, ou numa edição de bolso, ou num iPad – pelo contrário, a própria riqueza de opções é passível de ser aproveitada para enriquecer os laços sociais e intelectuais que esse tipo de experiência propicia.
Há algo nos livros eletrônicos que certamente pode mudar as práticas de leitura, e o próprio artigo de Considine dá uma pista disso. Os aparelhos de leitura eletrônica trazem, se não de forma explícita, como é o caso do iPad, mas pelo menos potencial, a possibilidade de o leitor continuar ligado à Internet, a redes sociais, ou de ouvir música e receber notícias instantâneas enquanto lê. Em outras palavras, além de poderem tornar a leitura mais fragmentada, menos imersiva, permitem que, durante a sua prática, tornem-se acessíveis todas as formas de interação não presencial que as várias redes oferecem. Todavia, parece-me óbvio que essa potencialidade será muita mais explorada durante uma leitura de um romance leve do que a de Kant..
Não é por acaso que, no mesmo artigo, apareça também a decaração de uma usuária do Kindle que o apresenta como “um modo mais fácil do que um livro para afastar as pessoas”. Um Kindle, mais do que um iPad, é um livro tradicional, num papel eletrônico e sem uma capa criada para dar uma pista do que a pessoa lê (o que não quer dizer que não desperte curiosidade e abordagens mais e menos indelicadas).
Um e-reader como o Kindle da Amazon ou o Alfa da Positivo, entre outros, oferecem maior facilidade de armazenamento, acesso e pesquisa, numa espécie de “evolução” do papel, mas têm uma capacidade menor de mudar seja a construção textual seja a leitura. O iPad, ao permitir conceitualmente, a exibição e produção de textos que mesclem escrita, imagens e sons apresenta um potencial mais subversivo nesse sentido.
Como já especulei na última postagem, provavelmente as duas experiências vão convergir num futuro próximo. Nesse momento, os e-readers farão pelo mundo da escrita algo muito parecido ao que as TVs fizeram pelo das imagens e dos sons, com as diferenças próprias de cada tecnologia. A TV não matou o cinema, mas virou mais uma possibilidade de ele chegar até as pessoas. O cinema que chega pela TV já é outro cinema, mesmo que numa tela de 90 polegadas, de alta definição e sem inserções publlicitárias. Além de veicular e modificar as linguagens do circo, do teatro, do rádio e do cinema, a TV criou uma linguagem própria.
O e-reader também fará isso. Pessoas continuarão a ler Machado, Pessoa, Guimarães Rosa e Shakespeare. Determinados escritores foram consumidos de forma diferente nos folhetins de jornal, em edições de capa dura e em livros de bolso e ganharão novas formas de leitura nos ebooks. Novos gêneros e formas de escritura surgirão, sem que as antigas desapareçam. Edições de papel apelarão cada vez mais para uma estética própria e procurarão valorizar o tátil e o livro como objeto. Textos aptos a uma leitura mais fragmentária e menos imersiva conviverão com outros mais lineares, intensivos e exigentes de lentidão. E o leitor desses últimos continuará assistindo a novelas de TV enquanto conversa com a família ou a partidas de futebol no barzinho da esquina, jogando videogame e indo ao cinema ou ao teatro.
Afinal, não precisamos ser limitados. E os laços sociais – sejam os presenciais da conversa e do abraço ou os estabelecidos nas redes informáticas – só têm a ganhar com isso.

Tom e Jerry - Chuck Jones. In: osilenciodoslivros.blogspot.com
domingo, 8 de agosto de 2010
De novo, livros impressos e ebooks

Tais discussões, parece-me, concentram-se em alguns pontos principais que, obviamente, se entrelaçam e se desdobram.
O primeiro – o mais visível, o mais falado pelo menos - é se os atuais suportes da palavra escrita – não só o livro, mas também o jornal e a revista – vão desaparecer. Como defendi na já mencionada postagem anterior, não creio nisso. Acredito apenas que vão acontecer alguns deslocamentos. Os atuais veículos impressos vão se aninhar em nichos bem específicos, pelo menos temporariamente.
O livro é veículo de uma informação mais permanente, decantada. O jornal e a revista, por natureza, têm caráter mais efêmero, defrontam-se mais diretamente com a rapidez da Internet. A TV e o rádio não conseguiram matá-los por serem inteiramente outras linguagens, mas as novas mídias são capazes de mesclar a maioria das vantagens de cada uma delas. Periódicos com longa história (vejam o JB, no Brasil, a Newsweek nos Estados Unidos) vão continuar quebrando e encolhendo, e os que resistirem, antes que mídias de massa, vão se transformar, cada vez mais, em mídias de nichos. Não dá para imaginar muito além disso. A história é longa, e somos curtos, de idéias e anos.
O argumento da coexistência histórica das mídias é o mais comum entre aqueles que defendem uma longa sobrevivência dos atuais suportes. Ele é que aparece, por exemplo, no recém-lançado _ não contem com o fim do livro, interessante conversa entre Umberto Eco e Jean-Paul Carriére, intermediada pelo jornalista francês Jean-Philippe de Tonnac. Transcrevo aqui o título como grafado na capa da edição brasileira, em minúscula e com underline no início, como um resíduo de escrita informatizada, numa espécie de ato falho ou provocação editorial (a edição original, francesa, não é assim)... Eis o que diz Eco, em trecho transcrito na contracapa:
“(...) o e-book não matará o livro – como Gutenberg e sua genial invenção não suprimiram de uma dia para o outro o uso dos códices, nem este, o comércio dos rolos de papiros ou volumina. Os usos e costumes coexistem e nada nos apetece mais do ue alargar o leque dos possíveis. A fotografia matou o quadro? A televisão, o cinema.? Boas-vindas então às pranchetas e periféricos de leitura que nos dãos acesso, através de uma única tela, à biblioteca univeral doravante digitalizada.”
Deriva-se aí para um outro ponto da discussão, fortemente entrelaçado com o primeiro, e que é basicamente uma questão de design e tecnologia. Existem reais vantagens na troca dos livros por ebooks? Que tipos de leitor para ebook sobreviverão?
Nesse aspecto, Umberto Eco é peremptório: o livro impresso é como a colher e a roda, uma criação definitiva, que não pode ser aperfeiçoada e substituída.
Mas será isso mesmo?
O códice é fácil de manusear, mas é difícil de guardar. Consome espaço, e espaço é dinheiro. O livro nem sempre teve essa forma. Antes – apenas para ficar em uma de suas muitas manifestações – foi volumen, o rolo de pergaminho dos antigos romanos. Uma forma substituiu a outra justamente porque o códice era mais fácil de ser arquivado e consultado, além de conseguir guardar mais informação num mesmo espaço físico (faça a experiência: transcreva Guerra e Paz, com o mesmo tamanho de letra, para o formato de rolo e coloque-o na estante). O livro impresso substituiu o manuscrito porque era de produção mais rápida e mais barata, podendo gerar uma quantidade de cópias muito maior num mesmo período de tempo.
O livro digital é tudo isso: é mais fácil de ser arquivado, consultado, pesquisado, guarda mais informação num mesmo espaço físico, tem produção (e distribuição) mais rápida e mais barata, quando comparado com o livro de papel.
Pense-se no seguinte: a diferença de preço entre uma edição digital e um livro de papel (cerca de 30% hoje), em breve, já será capaz de financiar a compra do e-reader para aqueles leitores que comprem pelo menos um livro por mês. Isso hoje ainda não é realidade. Atualmente, ainda sai mais barato comprar os livros tradicionais, mesmo que sejam mais caros individualmente, por não dependerem da aquisição de um suporte externo - a menos que a pessoa se disponha a ler seus ebooks num computador comum, que já use para outros fins, o que é bastante desconfortável.
Como exercício de futurologia, penso, por outro lado, como seria bom ler, por exemplo, A linguagem secreta do cinema, de Carriére, com a possibilidade de, a cada nome de filme citado, ser capaz de navegar para as imagens respectivas. Quando li pela primeira vez Jean Vigo, de Paulo Emílio Salles Gomes, há mais de vinte anos, tinha que me contentar em imaginar as cenas dos filmes mencionados, a que nunca assistira e que não tinha como assistir numa cidadezinha do interior de São Paulo. Recentemente, saiu uma bela edição da Cosac Naify, com a opção de ser adquirida junto com o DVD. Imagine agora uma versão digital que possibilitasse a navegação direta entre textos e imagens. Ou então ler Uma Nova História da Música de Otto Maria Carpeaux, ou O Som e o Sentido de João Miguel Wisnick com as mesmas facilidades...
Dizer que os livros digitais dependem de energia elétrica e que o livro de papel pode ser lido apenas com a luz solar pode ser uma ótima boutade, mas não resiste a uma análise mais séria. Quanta energia é necessária para produzir, distribuir, guardar e ler os livros de papel atuais? Sinceramente, num mundo em que voltássemos a ter o sol como única fonte de luz, os homens provavelmente teriam outras preocupações, e livros, muito mais do que hoje, seriam objeto de consumo de minúscula parcela da população...
Poderíamos, do mesmo modo, defender a vantagem das solas dos pés em relação aos automóveis, ônibus, trens e aviões. Mas quantos o fariam seriamente?
Sejamos realistas. Os e-readers e tablets reais têm ainda muita limitações, não só quando se pensa nas versões impressas, mas também nas possibilidades futuras. Essas limitações materializam-se, atualmente, em alguns embates, por exemplo, entre os fãs do Ipad – o computador portátil, tipo tablet, da Apple - e os do Kindle – o leitor digital exclusivo da Amazon. “Não dá para ler o Kindle no escuro”. “ Não dá para ler usando o Ipad à luz do sol”. “O Kindle não tem cor e não permite uma leitura mais interativa”. “A tela do Ipad cansa”. “O ipad é apenas um iphone que que não cabe no bolso”.
Há algum tempo, conversando com amigos, brinquei que estava faltando apenas um chinês lançar um aparelhinho que conjugasse a tela de tinta eletrônica do Kindle com a tela interativa do Ipad. Pois não é que a empresa brasileira Positivo anunciou recentemente que estara lançando um tablet com essas características em 2011? E a Amazon também promete para o ano que vem o seu e-reader com páginas coloridas. Num cenário como esse quem acredita que não é uma questão de (muito pouco) tempo termos opções com telas ergonômicas para a leitura e plenamente interativas? Enquanto isso, podemos consultar enciclopédias e livros didáticos em tablets, ler romances estrangeiros mais baratos em e-readers, clássicos em edições de bolso e nos deliciar com grafic novels e livros de arte em volumes cujas imagens parecem trazer a textura dos originais. Desde que se tenha gosto, tempo e dinheiro, é claro. Mas por quanto tempo?

E-reader da Positivo em lançamento no Brasil, carregado com edição de O Príncipe, de Maquiavel, da Penguin/Companhia das Letras (cujo contrato de cessão da marca prevê que todos os títulos deverão ser lançados também em formato digital)
domingo, 1 de agosto de 2010
Voltando de Alhambra

segunda-feira, 28 de junho de 2010
A grande inversão

”Forma” é a tradução latina para o grego morphe. E “matéria” é a tradução, na mesma língua, para hyle, madeira. Hyle, a matéria, é amorfa, redundância pura, caos, confusão de todas as formas possíveis, ainda não discernidas. Dar uma forma à madeira é fazer uma mesa, é escolher dentre uma das muitas formas potenciais que há nela. É “in-formar” a madeira, levar uma forma para dentro dela.
Não há Internet sem backbones, sem estruturas de redes físicas, sem ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas são vibrações de partículas, elas carregam em si a hyle mesmo quando atravessam o vácuo. Veja-se, nesse sentido tanto a mecânica quântica quanto a teoria da relatividade.
Corte-se um fio de transmissão elétrica, gaste-se a bateria de um tablet e a Internet deixa de existir. Tente-se censurá-la, ela resiste, pode vencer, mas na luta sempre há de surgir uma (in)consciência de limites. A matéria é a soma de muitos possíveis, mas também é um obstáculo, censura e cesura, um “não” sempre presente. Se “matéria” é uma metáfora, “desmaterializar “ também o é. Não há matéria sem forma, nem que essa forma seja a dor da topada, a impossibilidade de prosseguir, a falência. E não há forma sem matéria, sem sinapses de neurônios, sem imagens e ou palavras interiores.
Não há porque pensar em “coisas” apenas como algo que podemos pegar efetivamente com as mãos. Estrelas são coisas e estão fora de meu alcance, posso tê-las como informação visual direta ou indireta, por meio de telescópios poderosos. Da mesma forma, não posso pegar propriamente micróbios com as mãos, não posso sequer vê-los ou senti-los, mas posso “pegá-los” na forma de uma doença, vírus inserido no programa “normal” de meu corpo, informação indesejada.
Falar em “forma” e “matéria”, concebê-las ou negá-las já é informar o mundo, mas é preciso um mundo para ser informado, para ser formado. Ele, contudo, também não existe, se não como mera possibilidade, antes de ser reduzido pela informação.
Interessante isso. A matéria é que o verdadeiro terreno do virtual, do potencial. Lembre-se que “virtual”, semanticamente, é “possível”, opõe-se à “atual”. Isso que chamamos hoje de “virtual” é na verdade o “atual”, a concretização na forma de “zeros” e “uns” de todos os atuais possíveis contidos na matéria de que são feitas as redes físicas, as ondas eletromagnéticas, as sinapses de programadores e usuários.
Essa inversão de sentidos não é inocente. Ela cria uma cortina de fumaça, impede que se vejam os limites da matéria na informação, limita essa informação. Em outros tempos, chamava-se a isso de ideologia, uma espécie de informação que faz eco em si mesma.
domingo, 27 de junho de 2010
O futuro dos jornais?
 Dois dos principais jornais brasileiros passaram por reformas recentes, que não se resumem ao aspecto gráfico, mas, independentemente dos exageros de marketing, procuram sintonizar os velhos cadernos impressos com o mundo da Internet. São os casos de O Estado de S. Paulo e da Folha de S. Paulo. O primeiro saiu na frente, em março, e a segunda apresentou as mudanças em maio. Os dois veículos publicaram cadernos especiais comentando as próprias reformas, que desde já ficam como documentos históricos de uma fase de transição da imprensa brasileira, em que uma mídia secular procura, de forma evidente, manter-se viva diante do avanço das novas tecnologias digitais. Ou talvez fosse menos impreciso falar de uma fase de transição dos veículos de comunicação brasileiros, em que uma forma secular, impressa, procura manter-se viva diante dessas novas tecnologias.
Dois dos principais jornais brasileiros passaram por reformas recentes, que não se resumem ao aspecto gráfico, mas, independentemente dos exageros de marketing, procuram sintonizar os velhos cadernos impressos com o mundo da Internet. São os casos de O Estado de S. Paulo e da Folha de S. Paulo. O primeiro saiu na frente, em março, e a segunda apresentou as mudanças em maio. Os dois veículos publicaram cadernos especiais comentando as próprias reformas, que desde já ficam como documentos históricos de uma fase de transição da imprensa brasileira, em que uma mídia secular procura, de forma evidente, manter-se viva diante do avanço das novas tecnologias digitais. Ou talvez fosse menos impreciso falar de uma fase de transição dos veículos de comunicação brasileiros, em que uma forma secular, impressa, procura manter-se viva diante dessas novas tecnologias. O caderno do Estado, datado de 14/03/2010, tem um título bem mais comedido – "Jornalismo renovado" – enquanto o da Folha, de 23/05/2010, apela para o superlativo – "Novíssima!" – que o diário ostenta também em seu mais recente caderno cultural. Em ambos, todavia, a toada é muito semelhante: complementaridade entre mídias impressa e digital, convergência, renovação gráfica em busca de mais legibilidade (o Estado chegou a criar novas fontes exclusivas) e da incorporação de mais informações visuais.
O confronto (ou a convergência) com a Internet é simbolizado, nos dois casos, pela presença de reproduções do iPad – no caso da Folha já mostrando uma página da Folha.com e, no do Estado, uma reprodução da versão eletrônica do The New York Times.
Em ambos os cadernos, há também um apelo à história, com a Folha destacando as suas várias reformas gráficas e editorais num infográfico, e o Estado mostrando uma sobreposição de primeiras páginas, desde a Província de São Paulo até uma edição de março de 2010, já no novo design, cuja modernidade se procura ressaltar com o prolongamento do jornal num enquadramento que lembra o de um e-reader.
O título dessa incursão histórica do Estadão – “Em 135 anos, história e credibilidade” - é bem indicativo do subtexto que se procura transmitir. Na chamada da primeira página do caderno, também se fala de “tradição e credibilidade”. A Folha fala em “jornalismo preciso e confiável” e traz um artigo que se intitula... “Credibilidade em tempo real”.
Em outras palavras, num mundo em que tudo que é sólido se desmancha no ar, num ambiente em que pululam informações de todos os lados, os dois jornais apelam para um argumento de autoridade, garantida por sua histórica atuação, capaz de lhe dar essa anunciada credibilidade.
Isso se torna evidente no texto de Otávio Frias Filho – “7 vidas do jornalismo” - em que diz:
Ninguém contesta, é claro, que a evolução dos meios eletrônicos democratizou o acesso às informações. Nem que a conexão em rede fez surgir uma multiplicidade de formatos jornalísticos, estimulando a diversidade da oferta.
Mas muito desse novo jornalismo tem qualidade discutível, quando não é produto de mera pirataria. Os blogs e o jornalismo cidadão parecem oportunidades promissoras, mas quase sempre seu alcance fica limitado, seja em termos de recursos ou abrangência, seja porque expressam visões demasiado particulares e engajadas.”
Para piorar, o jornalismo que emerge está eivado de entretenimento, culto à celebridade, inconsequência.
(...)
Conforme mais pessoas imergem no oceano de dados e versões que giram pela rede, maior a demanda por um veículo capaz de apurar melhor, selecionar, resumir, analisar e hierarquizar. Esse veículo, no papel ou na tela, se chama jornal.
Esse é o serviço que ambos oferecem na balbúrdia do novo mundo: organizar e autorizar as informações, num ambiente em que se torna cada vez mais dificil discernir a pirataria, o boato, os particularismos interessados. Para isso, oferecem um mesmo valor, a autoridade sedimentada na história e na disponibilidade de recursos com que outros não podem contar. Nesse último aspecto, não por acaso, o Estado fala de sua saúde financeira e a Folha estampa uma montagem fotográfica de sua redação, chamada de “ centro captador de notícias 24 horas”.
Nessa busca, todavia, é preciso se adaptar, procurar a diversidade que há na Internet. O Estado fala se aproximar das redes sociais e, na sua versão da Internet, romper com o “conceito já ultrapassado de portal”. Fala também em “80 blogs assinados por jornalistas do Estado”. A Folha, por sua vez, anuncia os seus 29 novos colunistas, que vêm contemplar um time de mais de 100 – ainda que, cá entre nós, alguns sejam de qualidade e credibilidade no mínimo discutível.
“Não dá pra não ler/acessar_baixar_twittar_Folha_o jornal do futuro” – eis o que diz o slogan gráfico ao pé da página.
Mas nessa imagem – óbvia expressão de um desejo – o velho jornal impresso travestido de e-reader é que define as fronteiras de todas as outras versões.

terça-feira, 15 de junho de 2010
Máquinas e homens
As facas de pedra (...) são umas das máquinas mais antigas. São mais antigas do que o homo sapiens sapiens, e funcionam ainda hoje porque não são orgânicas, mas sim de pedra. Provavelmente, o homem paleolítico também tinha à sua disposição máquinas vivas, como os chacais, de que se servia durante a caça como prolongamento das pernas e como garras. Enquanto garras, os chacais não são tão estúpidos quanto as facas de pedra; mas, em contrapartida, as facas de pedra são mais duradouras. Isso pode ser um dos motivos por que até a época da Revolução Industrial foram utilizadas quer máquinas “inorgânicas”, quer orgânicas: facas e chacais, alavancas e burros, pás e escravos, de modo a poder desfrutar da resistência de uns e da inteligência de outros. Mas as máquinas “inteligentes” (chacais, burros e escravos) são estruturalmente mais complicadas do que as “estúpidas”. É este o motivo pelo qual se deixaram de utilizar a partir da Revolução Industrial.
Num livro sobre o design, Flusser tem um desígnio bem claro ao dizer isso. Seu objetivo é destacar o que ele chama de “retaliação das máquinas” na sociedade pós-industrial. Por isso, pode-se conceder a licença, ao mesmo tempo “poética” e utilitária, de fingir a inexistência de “máquinas inteligentes” - talvez o melhor fosse dizer "orgânicas" - depois da Revolução Industrial.
Isso não quer dizer que devamos jogar os garfos fora e voltar a comer com as mãos. Isso não quer dizer que se deva sonhar com um mundo pré-tecnológico, um paraíso perdido que, na verdade, nunca existiu. O próprio Flusser já apontou caminhos em outros textos. Veja-se, nesse sentido, por exemplo, O universo das imagens técnicas – elogio da superficialidade, para não dizer Filosofia da caixa-preta (que, inexplicavelmente, está esgotado no Brasil). Burros empacam, crianças fazem artes, artistas usam os programas ao revés.

Chaplin, em Tempos Modernos
terça-feira, 1 de junho de 2010
Gilgamesh Bueno
Notícia triste, hoje.
Soube agora à tarde, pela Internet, com atraso, que morreu Wilson Bueno.
Os livros dele já fazem parte dessa coisa – sei lá o que seja – chamada Literatura Brasileira.
Isso é verdade até para aquilo que escreveu num portunhol falso como uísque paraguaio, carregado de guarani, verdadeiro e bonito como só a poesia o pode ser, mesmo quando disfarçada de prosa.
Bolero´s Bar. Mar Paraguayo. Os chuvosos. Meu tio Roseno, a cavalo. Amar-te a ti nem sei se com carícias. Manual de zoofilia. Jardim zoológico. Cachorros do céu. A copista de Kafka.
Podem ler. Qualquer um é muito bom.
E tem a quase lenda do Nicolau.
Morreu como? Tudo isso vai ficar.

Maggie Taylor --- all on a summer day. Em: diariovagau.blogspot.com
segunda-feira, 31 de maio de 2010
A aura, de Nossa Senhora Aparecida à Madonna
 Bugattis - Em: www.dcomercio.com.br/.../dcmidia/2009_carros.htm
Bugattis - Em: www.dcomercio.com.br/.../dcmidia/2009_carros.htmEmbora o artigo de Walter Benjamin continue uma obra-prima, imperdível, cintilante, plena de iluminações, Gullar está certo. As pessoas hoje podem encontrar a Mona Lisa por toda parte, reproduzida em camisetas, cartazes, peças de publicidade, enciclopédias, livros de arte. Mas basta ir ao Louvre e ver a multidão de turistas se acotovelando em torno do quadrinho (digo assim referindo-me às dimensões físicas da obra, é óbvio) para perceber que a aura persiste, independentemente de quantas reproduções haja. A Mona Lisa é única. E todo aquele bando de turistas, antes de vê-la pessoalmente, a conhecia por reproduções em livro, revistas, TV, Internet.
A aura, a princípio, é um conceito religioso, depois transferido para a estética. Aura é coisa de seres divinos. Ou de ídolos. Um ídolo é um objeto sagrado, único. Nossa Senhora Aparecida é uma estátua única, localizada numa única cidade do planeta. Mas todas as reproduções de Nossa Senhora Aparecida em plástico, gesso, resina guardam algo da sacralidade da santa para as pessoas que acreditam nela, embora todos saibam que aquela não é a original.
O fenômeno, na realidade, é até mais complexo, pois muitos sabem que mesmo a estátua que se localiza no vale do Paraíba não é, em certo sentido, original – o que ela tem de sagrado derivaria de ter sido objeto – ou instrumento – de milagres realizados pela santa verdadeira que está no céu.
 Assim, por mais que todas sejam reais, há uma gradação do que poderíamos chamar de níveis de verdade, que começa na Mãe de Deus, passa pela imagem “original” de Aparecida do Norte e pelas reproduções em muitas igrejinhas do Brasil, até chegar no iconezinho de plástico vendido no camelô.
Assim, por mais que todas sejam reais, há uma gradação do que poderíamos chamar de níveis de verdade, que começa na Mãe de Deus, passa pela imagem “original” de Aparecida do Norte e pelas reproduções em muitas igrejinhas do Brasil, até chegar no iconezinho de plástico vendido no camelô.Pode-se dizer: é uma gradação da mesma ordem daquela que vai da Mona Lisa do Louvre até uma reprodução publicitária no jornal, passando por uma fotografia do quadro de da Vinci estampada num livro de arte.
É inegável que há algo de fetichismo nesse processo. O ídolo tem poderes por uma transferência de sacralidade. O fetiche é sagrado por ser parte de um sagrado maior. Pedaços dos deuses e dos santos ou coisas que foram tocadas por eles, ainda que indiretamente, são capazes de guardar e transmitir o sagrado. A reprodução de formas não é apenas icônica, é indicial também, de modo que a semelhança entre a representação e o deus é a própria presença do deus, embora na forma de alguns poucos traços.
Só por isso é que pode existir o vudu, que ferir um boneco é ferir a pessoa. As pessoas simples sabem que, no caso de reproduções, a diferença entre semelhança e contiguidade é, no fundo, apenas didática. Uma imagem é, desse modo, uma parte daquilo que representa, é um “pedaço” tanto quanto uma parte arrancada ou um objeto que foi tocado pelo deus. Nesse aspecto, não apenas as fotografias são indiciais – também o são pinturas, desenhos, estátuas, caricaturas.
O "Único" que continua sempre único reside também em suas partes ou pode transmitir algo de sua presença pelas marcas que são deixadas por qualquer toque. Por isso, o osso da perna (ou de um dedo mindinho) de um deus é também sagrado, como o é também - embora provavelmente em um grau menor - o objeto que foi tocado por ele (como a lasca da verdadeira cruz) ou um retrato que guarda os traços da divindade.
Às vezes os “pedaços” ganham vida própria, esquecendo-se mesmo a origem de seus poderes. O conceito de arte pela arte não seria, de alguma forma, uma manifestação desse fenômeno? A obra surge independente, orgulhosa de seu solipsismo, sem nada a ver com o mundo ou com o seu criador, tomada de vida própria, incriada, como um divino que se profanou mantendo a sua grandeza.
Desse modo, a palavra “fetichismo” aqui pode ser lida tanto por uma perspectiva psicanalítica, no sentido de um investimento libidinal numa parte que é tomada pelo todo, quanto num sentido marxista de atribuição de vitalidade própria às coisas. No momento em que arte e religião se separaram, o místico transformou-se em sentimento estético. Essa é uma das teses principais que estão por trás do artigo de Benjamin – e parece-me correta.
Pode-se acrescentar , todavia, que, no recuo do sagrado, o aparecimento dessa espécie de aura profana não se restringiu ao estético. Que o digam os altos preços alcançados no mercado por sapatos da Madonna (não a Senhora católica, mas a cantora), souvenirs de filmes hollywoodianos, o pênis amputado de Napoleão Bonaparte, apenas para citar alguns exemplos. O chamado star syistem e o mercado como um todo se apropriaram da aura. Objetos únicos continuam auráticos e objetos raros são mais auráticos do que aqueles que existem aos milhares. Objetos raros são objetos caros. Essa é uma maneira de a unicidade do sagrado aproximar-se da lei da oferta e da procura, ou vice-versa ...

Sapatos de Madonna - Em: madonnaever.blogspot.com/2009/12/sapatos-de-m...
Assim, não é a simples existência de uma aura dessacralizada que poderia definir a arte, mas de um tipo de aura, caracterizado por um grau extremo de fetichismo, em que a obra ganha vida e poderes próprios. A aura, no caso, é da obra em si e não algo transmitido pelo autor ou que vem da coisa representada.
O texto de Ferreira Gullar associa diretamente valor de mercado com presença aurática. E aqui também, de novo, está correto. De certa forma, o mercado de arte, desde que se constituiu, sempre soube disso. Não é a toa que as gravuras e bronzes artísticos têm as reproduções limitadas. Há uma estreita relação entre o mito da unicidade e a lei da oferta e da procura, como já lembrei aqui. O raro vale mais. Independentemente de suas qualidades reais e certamente maiores, um Bugatti vale mais do que um fusca ou um dos velhos Fiat 147. Mas esse vai valer muito mais daqui a alguns anos, quando for uma raridade, como um Ford de Bigode. Por isso, o tempo é um instituidor de auras.
Mas essa não é uma relação tão reta assim, não vamos simplificar aquilo que não é simples. Uma foto pode ser mais aurática que uma pintura, quando representa um morto querido, pois é uma imagem arrancada “diretamente” dele. Mas o “original” de uma fotografia, o seu negativo – considerado não naquilo que tem de re-apresentação, mas de produção , de verdadeiramente “original” – é aurático per si. Assim como a primeira edição de um livro, ou os seus manuscritos. Esses podem ser ainda mais auráticos, por trazerem mais diretamente o “toque” do autor. Um original perdido é ainda mais aurático, é como um deus envolvido pelo mais profundo dos mistérios.
Insinua-se aqui uma distinção, entre a aura da obra única e a aura do autor, entre o ídolo que se esqueceu de haver um deus anterior a ele e a relíquia.

Differents versions of The Mona Lisa - Em: perfumequeen.wordpress.com/2008/12/
domingo, 23 de maio de 2010
Da Tabacaria para a praia - Poemas vis, de Gustavo de Castro
 Figura de Satã, por Gustave Doré
Figura de Satã, por Gustave DoréNem todas as coisas foram ditas. Falta dizer as necessárias.
Mas quem as dirá? O poeta, o são, o da tabacaria?
Falta dizer que não há respostas para as perguntas fundamentais.
E completa logo na sequência:
E ainda que esse homem só diga coisas fundamentais todos os dias, ainda assim não saberá fazer silêncio.
Nem todos os silêncios foram ditos. Falta calar os fundamentais.
Mas quem os calará? O poeta, o são, o da tabacaria? (p. 20)
Faço desse excerto a minha chave de entrada no livro. De cara, aparece nele uma oposição entre o falar e o calar. Há também ecos, ainda que inconscientes, de Wave de Tom Jobim (“fundamental é mesmo o amor”, lembram?). Necessidade e fundamento, calcados no dizer, parecem encontrar-se, apenas para serem negados depois por uma espécie de primazia do silêncio. “Dizer o silêncio” é o fundamental, antes mesmo de dizer o amor, antes mesmo de dizer o bem. “Dizer o silêncio”, todavia, é também “calar o fundamental”. Como podem fazê-lo seja o homem comum, o da tabacaria, seja o poeta, esse que justamente se define pela palavra? O fundamento é uma aporia? Heiddeger na veia?
De certa forma, então, todo poema, no fundo, é vil, não presta, não tem serventia, na sua vã tentativa de buscar o indizível, na sua impossibilidade de calar. Reconhecê-lo é um caminho para fundar uma poética. Fazê-lo é uma opção estética, mas também ética.
Mas o “vil” do título, além de "inútil", também significa "reles", "ordinário", de "baixo preço", aquele que se opõe ao nobre, ao elevado, àquele que se fecha em sua torre de marfim ou de pedras. Tem parentesco, na origem, com “vila” e “vilão”, aquele que vive fora do castelo, nos campos e ruas do mundo.
Nesse sentido, lembre-se do já mencionado poema de Pessoa. Nele, há uma oposição básica entre o “dentro” e o “fora”, com o poeta contemplando a rua pela janela. Do outro lado, está a tabacaria do título. Essa antítese de origem desdobra-se em outras, quais sejam a realidade e o sonho, o objetivo e o subjetivo – pares que também se deslocam ao longo dos Poemas vis, tensionados entre a procura do sentido e a certeza de um vazio pleno de possibilidades, único fundamento possível para as coisas e os ditos.
O próprio Gustavo de Castro já qualificou a Tabacaria como “(...) um solilóquio diante do abismo (...)”, no seu livro ensaístico O mito dos nós. Esse silêncio que não se cala e, ao mesmo tempo, não se pode dizer, que está na poesia, é sempre um exercício diante desse abismo, um modo privilegiado de contemplá-lo, de reconhecer a sua existência e de, ao mesmo tempo, tentar projetar-se além dele pelo exercício das palavras. Alguns o sabem, outros não.
Não por acaso, a capa do livro traz a figura central de uma ilustração de Gustave Doré, para o Paraíso Perdido de Milton e que mostra, justamente, o chamado Anjo do Mal (mas que se confunde também com Lúcifer, o anjo da luz), num momento antes da queda. Na capa do livro, porém, a ambientação da gravura original, a rocha sobre a qual a figura se apóia na beira do abismo, foi retirada, de tal modo que se poderia dizer que a figura alada, em negro sobre o fundo branco, está a voar - o que não deixa de ser outra maneira de encarar o precipício. Precipício que é, ele mesmo, o fundamento das coisas que não se podem dizer, silêncio materializado.
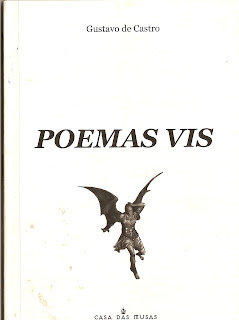
Ou como diz Castro, em outra passagem dos Poemas vis, quando poetiza sobre aquilo que chama de “três formas de abaixar” (e não se esqueça que abaixar-se é, justamente, um modo de se aviltar):
A terceira forma é o exercício do abismo: de vez em quando, observar vendavais. Ficar de pé no nada, bem na beirinha. Depois, soprar bem muito: com os poros, a boca e os olhos. Só para ver o vento que sai de dentro da gente. (p. 26)
Saia do seu canto de muro, homem. Vá passear na praça. Você gosta dos abetos no canteiro? Já fumou um cigarro na praia ou acendeu uma fogueira com lascas de eucalipto?
(...)
Qualquer coisa, homem. Qualquer coisa. Menos jogar tua âncora de sol neste canto de muro.
(p. 14)
Ou:
Nesta noite, apenas vestir as melhores emoções. E sair.(p. 18)
Sair como uma puta da poesia, aberta a todos os amores e versos, por mais controversos que sejam. Literalmente, cair na vida. Ser capaz de dizer:
Vendi meu gozo por contos-de-rés. Corpo que todos tem; coitos-di-versos a todos digo amém!
Fiz sexo com as palavras, mas elas se foram, deixando marcas de baton na minha boca.
Prostitui então minha lábia no falo da Poesia. Só para ter a cada dia uma nova paixão.
Por ser puta da Poesia, aceito no meu peito qualquer coração.
(p. 11)
Puta estranha essa, cujo corpo “ (...) todos tem” e não “(..) todos têm”, que não se propõe, desse modo, apenas como objeto de muitos, mas como aquela que se aproveita de todos aqueles que pretensamente a possuem! E se a falta desse circunflexo foi erro de composição do livro e não intenção consciente do poeta, não importa, pois está bem de acordo com o que o restante da escritura propõe e dispõe!
Puta que apesar de sua disponibilidade – ou por causa dela - , é abandonada pelas palavras “(...), que deixam, no entanto, sua marca, só para ter a cada dia uma nova paixão”, paixão que, por sua vez, rima – talvez sem querer querendo – com “qualquer coração” ....
Postura bem próxima e, ao mesmo tempo, distinta, daquela do Álvaro de Campos no poema famoso, o qual olha o mundo através da janela e lança mão do cigarro apenas para deixar ir embora a vontade de versos enérgicos, enquanto sonha com a felicidade possível/impossível de um casamento com a filha da lavadeira...
Há toda uma poética aí, que se coloca a contrapelo de parte da poesia brasileira contemporânea. Nos últimos trinta anos, seja em avatares do concretismo, seja em diálogos, ainda que involuntários com a L=A=N=G=U=A=G=E americana, muitos de nossos poetas buscam uma fatura mais descarnada, mais voltada para si mesma, uma poesia que dialoga com a poesia, num movimento centrípeto, dominado por algo que, em outro momento, alcunhei de “ilegibilidade”, o qual questiona os próprios mecanismos de representação e, muitos vezes, coloca a metalinguagem ou os aspectos plásticos do linguístico à frente mesmo daquilo que as palavras podem ter de tentativa – embora frustrada – de ser ponte com o mundo.
O poeta não pode ficar em torres de marfim, ou em mansardas, fechado em versos ou não versos de difícil compreensão. Deve sair de seu “canto de muro” para o canto impuro:
Saia do seu canto de muro, homem. Vá passear na praça. (...)
Sei que você gosta de poesia, homem. Que escreve poesia também. Mas tem poesia na tua vida neste canto de mundo? Saia de seu canto de mundo, homem. Vá passear na praça: Olhar as meninas; torcer contra o Flamengo, tomar uma cerveja gelada, jogar dominó; esperar o inverno...
Se você tiver filhos e gostar de gargalhar com bestagens, ainda melhor. Subirá no meu conceito. Fará um canto ainda melhor. Se puder, pendure também uma samambaia por perto. Solte pipa. Lave o balde de roupa suja ou caminhe sem direção rumo a estrada noturna.
(p. 14)
O poeta Philadelpho Menezes, em A crise das vanguardas, classificou os grandes movimentos artísticos do século XX em duas correntes principais: aquela que queria diluir a vida na arte e aquela que buscava imergir a arte na vida. Não se pode esquecer também que houve aqueles que, no fundo, propuseram voltar as costas para a vida. Gustavo, todavia, parece buscar uma outra síntese: vida e arte numa difícil, porém possível mistura, com samambaias penduradas, numa mestiçagem entre arroubos beatniks e um plácido fruir de filhos e bestagens. Uma proposta que, sobretudo, não parece distinguir fazer poesia de viver – em outras palavras, um autêntico viver a poesia. Uma vida, todavia, que seja procura, antes que remanso. Uma vida que seja ela também abismo bem-vindo para se mergulhar.
Ao corporificar essa proposta, a fatura de Poemas vis é inegavelmente erudita, de um leitor de muitas fontes, que nela ecoam reprocessadas. No livro, a “vileza” de fundo ecoa na “vileza” da forma, sem grandes cabriolas visíveis de estilo. A simplicidade da quase prosa da primeira parte do livro e dos pés-quebrados da segunda, porém, escondem habilidade formal. A escritura atenta aos seus próprios meandros manifesta-se não só na musicalidade de certas passagens, na retomada de ritmos populares, nas brincadeiras de linguagem, mas também no achado que traz para a primeira parte do livro (“azeviches”, vale dizer domínio do negro) os textos mais massudos, manchas negras quase sem espaços, enquanto a segunda parte (estanhos, vale dizer domínio do branco, que se torna cinza, porém, no cotidiano contato com o mundo) se recheia de poemas mais arejados, versos mais curtos, com maiores espaçamentos, a trazer mais brancura para as folhas do livro.

Gustavo de Castro - Fonte: opovo.uol.com.br/opovo/vidaearte/866151.html
sábado, 22 de maio de 2010
A vaca, de Petrov, ou como pinturas podem ganhar vida

Pesquisei no Google para resolver um pouco a minha ignorância. Ali, fico sabendo que A vaca é um dos primeiros filmes desse autor, que geralmente busca inspiração na literatura. Filmou também O sonho de um homem ridículo (The Dream of a Ridicolous Man), de 1992, baseado em Dostoievski, A sereia (The Mermaid), de 1996, inspirado em Pushkin, e O velho e o mar (The Old Man and the Sea), de 1999, homenagem a Hemingway, com o qual ganhou o Oscar de melhor curta de animação em 2000. O último trabalho do qual encontrei registro foi O meu amor (My Love), inspirado no também russo Ivan Shmelyov.

A vitória da escrita
 Teia. Fonte: bitbiblio.blogspot.com/2008_04_01_archive.html
Teia. Fonte: bitbiblio.blogspot.com/2008_04_01_archive.htmlCom “escrita” aqui não quero dizer apenas os caracteres destinados a representar as palavas e os intervalos entre elas, mas também sons (como as notas musicais), números, operações lógicas e matemáticas, concomitâncias e sequenciamentos. Não por acaso, entre os antigos egípcios, Thoth era, ao mesmo tempo, o deus da escrita e da matemática – e também da magia.
E o que é justamente essa famosa digitalização que, na atualidade, permite a desmaterizalização de dados, palavras, imagens e sons?
Mais que isso, é uma forma de escrita que leva quase ao limite a lógica particional e sintagmática que está por trás dos sistemas ocidentais.
O mundo atual organiza-se agora em múltiplas camadas de interfaces. Entre as coisas e as suas representações visíveis, legíveis, rodam vários programas, em várias linguagens.
Surgem, assim, duas categorias de pessoas. Há quelas que são alfabetizadas em algumas dessas linguagens e as analfabetas. Mas provavelmente ninguém é alfabetizado na cadeia toda.

Hieroglifos cursivos no Livro dos Mortos. Fonte: atrasdosolhos.wordpress.com/.../
domingo, 9 de maio de 2010
Sobre códices e e-readers

Deixemos de lado o fato de que o autógrafo, no caso, é do Steve Jobs. Imaginaram o Guttemberg autografando livros impressos?

E já pensou numa noite de autógrafos ou numa dedicatória carinhosa para a namorada, quando se trata de um gadget desses?
Isso desvela, ao meu ver, algo que nunca vai se perder quando se trata do bom e velho códice impresso, o livro de papel tal qual o conhecemos: o quanto ele tem de tátil, de sensível, por oferecer-se a todos os sentidos (tem cheiro, cor, peso próprio), e de afetivo, pois guarda marcas, rugas do tempo, pode deixar entrever histórias de manuseio, acumular dedicatórias, que são marcas físicas de vidas e desejos..

Por isso, acredito, sinceramente, que as duas formas de veiculação da escrita vão continuar a coexistir durante muito tempo. Daqui a pouco não dará mais para a gente imaginar enciclopédias e atlas, por exemplo, em papel. Mas uma boa e velha história de detetive para ler na praia, num momento de preguiça, continuará se casando bem com um paperback – ainda que haja versões mais sofisticadas, interativas, para os iPads da vida.
Imagino que, daqui a algum tempo, a maioria dos livros seja lida em e-readers cada vez mais baratos e práticos. Mas que, nas outras franjas de um vasto espectro, continuaremos a ter edições para colecionadores, livros que explorem justamente o que o papel tem a oferecer com exclusividade aos sentidos, exemplares impressos com o fito de serem autografados em momentos especiais, bem como edições baratas – de bolso ou não – destinadas a um consumo rápido.
Por isso, confesso, não vejo a hora de comprar meu primeiro e-reader, que certamente vai facilitar muitas leituras. Mas que não vai subsituir, com certeza, aqueles livros comprados de última hora no aeroporto, os garimpos nos sebos de Brasília e São Paulo, a emoção de reler a dedicatória de um professor morto num ensaio importante para minha formação intelectual, ou de folhear a edição em fac-símile de um Livro de Horas medieval, recuperando um pouco o que seriam os movimentos de um leitor daquela época... Ou a de reencontrar nas estantes o primeiro livro comprado para mim por meu pai, ou o Voltaire que dei de presente para a namorada e que voltou para minha biblioteca quando me casei...

sábado, 8 de maio de 2010
Tecnologias inovadoras
 TV social - Imagem reproduzida de www.socialteam.org/br/?attachment_id=513
TV social - Imagem reproduzida de www.socialteam.org/br/?attachment_id=513Todo ano a Technology Review, revista científica publicada pelo respeitado MIT (Massachussets Institute of Technology), faz uma lista de tecnologias emergentes que apresentam soluções para diversos problemas da humanidade. A seleção é feita entre pesquisas recentes de produtos e serviços que a indústria ainda não adotou em larga escala.
Confira a lista das tecnologias:
Busca em tempo real
O Google está muito interessado em incorporar as atualizações feitas em redes sociais aos resultados. O desafio, além de tornar essas informações buscáveis, é atribuir relevância para alguns updates em detrimento de outros, e assim acrescentar conteúdo útil. Rastrear e classificar conteúdos atualizados a todo instante em redes sociais exige muito mais velocidade e novos algoritmos para acompanhar, em tempo real, milhares de updates no Twitter e Facebook, por exemplo. Estas duas redes de relacionamento não têm problema em vender suas atualizações para os buscadores. O Google não revela muito o segredo da análise das atualizações. Mas, Amit Singhal, o responsável por esse desenvolvimento, diz a Technology Review que um perfil no Twitter com muitos seguidores e muito retwitado sai na frente de outros menores. Uma atualização feita no Facebook tem mais relevância quanto maior o número de amigos do usuário e ainda quanto mais amigos seus amigos colecionam. Outra maneira é usar a geolocalização, dependendo do local de onde é produzida uma mensagem ela seria mais relevante. Se alguém postar sobre terremoto e estiver localizado próximo à área atingida sua informação será provavelmente mais relevante do que outras mais distantes.
3D móvel
Quem pensava que a popularização de imagens tridimensionais aconteceria pelo cinema ou grandes e modernos aparelhos de TV, pode ter uma surpresa com o Samsung W960 lançado na Coreia do Sul em março. O celular conta com um software desenvolvido pela empresa Dynamic Digital Depth que converte imagens em 2D para 3D. Na posição vertical, as imagens parecem bidimensionais, mas é só virar o aparelho para a posição horizontal que elas saltam da tela e ganham volume. O software cria ilusão de perspectiva nas imagens estimando a profundidade dos objetos em cena com várias pistas, como se há um céu numa paisagem, ele provavelmente estará mais ao fundo do que as montanhas. Então, o programa produz pares de imagens levemente distintas que nosso cérebro interpreta como se fosse uma só com profundidade.A tecnologia até poderá ser usada em TVs 3D, mas a tecnologia funciona melhor quando existem poucos ângulos de visão envolvidos, por isso o smartphone seria a melhor opção. A Dynamic Digital Depth começa também a desenvolver meios de adaptar games para 3D sem óculos nos celulares. A empresa de pesquisa DisplaySearch divulgou uma pesquisa recente que prevê que até 2018 teremos 71 milhões de aparelhos móveis com a tecnologia.
TV social
A cientista convidada do MIT, Marie-José Montpetit, tenta fundir as redes sociais à TV tradicional e transformar a experiência até agora passiva dos telespectadores em algo mais colaborativo. Os grandes conglomerados da TV vêem com bons olhos a mudança, esperam que, ao linkar cada espectador com seus amigos, eles deixem de trocá-la por sites re relacionamento. A indústria publicitária também pode ganhar com isso, afinal, será mais fácil produzir conteúdo personalizado de acordo com os interesses do telespectador. Ainda é difícil saber quando e como a tecnologia vai tomar forma, mas a pesquisadora e seus alunos apresentaram um protótipo ano passado.
Programação em nuvem

Computação em nuvem - imagem reproduzida de flammarion.wordpress.com
Como Alice se perdeu no País das Maravilhas
 Imagem promocional de Alice in Wonderland, de Tim Burton
Imagem promocional de Alice in Wonderland, de Tim BurtonA riqueza original das aventuras da menininha em seus mundos de sonho perde-se num enredo que, afinal, acaba se resumindo num embate entre forças boazinhas e mazinhas, tendo como pano de fundo uma espécie de receita de autoajuda para a heroína, que, já adulta, precisa decidir entre casar com um aristocrata sem graça e tornar-se aprendiz de uma companhia de comércio! Pois é nisso que consiste a "libertação" de Alice no final do filme - embarca para a China para negociar do outro lado do mundo, cumprindo um velho sonho paterno. E quem estudou um pouco de história sabe o quanto teve de rapacidade e mesquinhez o avanço da Inglaterra para o Oriente.
Assim, o que a Alice de Burton tem de moderno, de contemporâneo – mocinha prafrentex capaz de enfrentar convenções sociais e traçar um destino para si mesma – não pode deixar de lado o que a modernidade tem de pior. Digo “prafrentex” de propósito, por ser uma gíria de algum momento entre os anos 1960 e 1970, já ultrapassada. Vamos convir que Alan Moore deu um destino bem mais imaginativo para a Alice adulta na série pornográfica em quadrinhos Lost Girls.
O visual do filme, com seu tom ao mesmo tempo sombrio e luxuriante, é puro Tim Burton, a ponto de a gente pensar o que o 3D foi fazer ali. É mais que perfunctório, chega a atrapalhar. Li em algum lugar que Alice foi filmada originalmente em 2D e depois adaptada para o 3D. Por isso certamente seus enquadramentos foram pensados para o plano e algumas vezes a ilusão da terceira dimensão se quebra porque os limites da tela estão no lugar errado.
Há filmes ou sequências que parecem usar o 3D para levar o espectador para dentro do cenário ou da paisagem. Vejam-se, nesse sentido, diversas passagens de Up, altas aventuras – na minha opinião, a película que melhor utlizou o 3D como elemento narrativo até o momento- e algumas de Avatar, em que, por exemplo, uma sala de conferência, numa cena, parece prolongar a própria sala de cinema com suas cadeiras. Há casos também – para falar a verdade, a maioria até agora - em que o 3D busca criar um efeito lúdico antes que estético, de parque de diversões mesmo, parecendo jogar objetos na cara da plateia, por exemplo. Na maior parte das vezes, porém, Alice não faz nem uma coisa nem outra. No filme, o 3D surge como um maneirismo a somar-se acidentalmente a tantos outros que já fazem parte da estética de Burton, mas sem se integrar a ela. Nesse aspecto, esperemos por alguma obra que o diretor americano venha a conceber realmente para essa nova tecnologia.

Cena de Alice, de Jan Svankmajer
domingo, 25 de abril de 2010
Roberto Piva, por Cláudio Willer
 Capa de Paranóia, de Roberto Piva
Capa de Paranóia, de Roberto PivaA seguir, dados e transcrição do release da manifestação.
Local: SESC Vila Mariana (Rua Pelotas 141 - Vila Mariana)
Tel.: (11) 5080-3000 / www.sescsp.org.br
Auditório (131 lugares) Entrada gratuita
Informações para a imprensa: (31) 3261-1501 – imprensa@sempreumpapo.com.br Coordenadora de comunicação - Jozane Faleiro: (31) 9204.6367
No encontro, Claudio Willer falará sobre “Roberto Piva e a Poesia”. Argumentará que a poesia de Piva é sobre a própria poesia; é um poeta culto, um leitor que, por vezes de modo sutil, comenta suas leituras e sua paixão pela vida e pela poesia (que, em sua poética, se confundem)
Roberto Piva (São Paulo, 1937) publicou Paranóia (Massao Ohno, 1963, reeditado em 2000 e em 2009 pelo Instituto Moreira Salles), Piazzas (1964, reeditado em 1979), Abra os olhos e diga AH! (1976), Coxas (1979), 20 poemas com brócoli (1981), Quizumba (1983), Ciclones (1997) e Estranhos sinais de Saturno (2008), além de uma antologia poética em 2005 e manifestos. Todos esses títulos compõem sua Obra Reunida (editora Globo), organizada por Alcir Pécora, em três volumes: Um estrangeiro na legião (2005), posfácio de Claudio Willer, Mala na mão & asas pretas (2006), posfácio de Eliane Robert Moraes, e Estranhos Sinais de Saturno (2008), posfácio de Davi Arrigucci Jr. Em 2010, foi lançada uma coletânea de suas entrevistas, Encontros: Roberto Piva, pela editora Azougue. Teve, a partir de 2000, um crescimento de sua presença em antologias importantes, traduções e bibliografia crítica, incluindo teses e dissertações. Além de apresentar-se em leituras de poesia, coordenou oficinas e palestras intituladas “Encontros Órficos”. Tem filmografia, composta por um documentário de Tadeu Jungle, de 1988, Uma outra cidade de Ugo Giogetti (2000) e Assombração urbana de Valesca Dios (2005), exibidos pela TV Cultura, além de participação em outros vídeos e filmes.
Claudio Willer (São Paulo, 1940) é poeta, ensaísta e tradutor. Publicou Geração Beat (L&PM Pocket, coleção Encyclopaedia, 2009), Estranhas Experiências, poesia (Lamparina, 2004); Volta, narrativa (Iluminuras, terceira edição em 2004); Lautréamont - Os Cantos de Maldoror, Poesias e Cartas (Iluminuras, nova edição em 2008) e Uivo e outros poemas de Allen Ginsberg (L&PM, edição pocket em 2005, nova edição em 2010). Prepara-se para lançar Um obscuro encanto: gnosticismo e poesia, ensaio (Civilização Brasileira). Teve publicados, também, Poemas para leer en voz alta (Andrómeda, Costa Rica, 2007) e ensaios na coletânea Surrealismo (Perspectiva, 2008). É autor de outros livros de poesia – Anotações para um Apocalipse, Dias Circulares e Jardins da Provocação – e da coletânea Escritos de Antonin Artaud, esgotados. Doutor em Letras na USP, faz pós-doutorado sobre Religiões Estranhas, Hermetismo e Poesia. Coordena oficinas literárias; ministra cursos e palestras sobre poesia e criação literária. Prepara um livro sobre surrealismo e ensaios sobre misticismo e poesia.

O poeta Cláudio Willer



