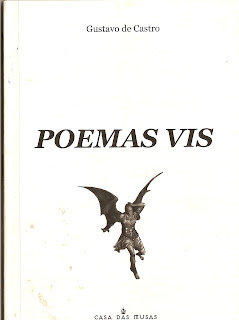Bugattis - Em: www.dcomercio.com.br/.../dcmidia/2009_carros.htm
Bugattis - Em: www.dcomercio.com.br/.../dcmidia/2009_carros.htmEmbora o artigo de Walter Benjamin continue uma obra-prima, imperdível, cintilante, plena de iluminações, Gullar está certo. As pessoas hoje podem encontrar a Mona Lisa por toda parte, reproduzida em camisetas, cartazes, peças de publicidade, enciclopédias, livros de arte. Mas basta ir ao Louvre e ver a multidão de turistas se acotovelando em torno do quadrinho (digo assim referindo-me às dimensões físicas da obra, é óbvio) para perceber que a aura persiste, independentemente de quantas reproduções haja. A Mona Lisa é única. E todo aquele bando de turistas, antes de vê-la pessoalmente, a conhecia por reproduções em livro, revistas, TV, Internet.
A aura, a princípio, é um conceito religioso, depois transferido para a estética. Aura é coisa de seres divinos. Ou de ídolos. Um ídolo é um objeto sagrado, único. Nossa Senhora Aparecida é uma estátua única, localizada numa única cidade do planeta. Mas todas as reproduções de Nossa Senhora Aparecida em plástico, gesso, resina guardam algo da sacralidade da santa para as pessoas que acreditam nela, embora todos saibam que aquela não é a original.
O fenômeno, na realidade, é até mais complexo, pois muitos sabem que mesmo a estátua que se localiza no vale do Paraíba não é, em certo sentido, original – o que ela tem de sagrado derivaria de ter sido objeto – ou instrumento – de milagres realizados pela santa verdadeira que está no céu.
 Assim, por mais que todas sejam reais, há uma gradação do que poderíamos chamar de níveis de verdade, que começa na Mãe de Deus, passa pela imagem “original” de Aparecida do Norte e pelas reproduções em muitas igrejinhas do Brasil, até chegar no iconezinho de plástico vendido no camelô.
Assim, por mais que todas sejam reais, há uma gradação do que poderíamos chamar de níveis de verdade, que começa na Mãe de Deus, passa pela imagem “original” de Aparecida do Norte e pelas reproduções em muitas igrejinhas do Brasil, até chegar no iconezinho de plástico vendido no camelô.Pode-se dizer: é uma gradação da mesma ordem daquela que vai da Mona Lisa do Louvre até uma reprodução publicitária no jornal, passando por uma fotografia do quadro de da Vinci estampada num livro de arte.
É inegável que há algo de fetichismo nesse processo. O ídolo tem poderes por uma transferência de sacralidade. O fetiche é sagrado por ser parte de um sagrado maior. Pedaços dos deuses e dos santos ou coisas que foram tocadas por eles, ainda que indiretamente, são capazes de guardar e transmitir o sagrado. A reprodução de formas não é apenas icônica, é indicial também, de modo que a semelhança entre a representação e o deus é a própria presença do deus, embora na forma de alguns poucos traços.
Só por isso é que pode existir o vudu, que ferir um boneco é ferir a pessoa. As pessoas simples sabem que, no caso de reproduções, a diferença entre semelhança e contiguidade é, no fundo, apenas didática. Uma imagem é, desse modo, uma parte daquilo que representa, é um “pedaço” tanto quanto uma parte arrancada ou um objeto que foi tocado pelo deus. Nesse aspecto, não apenas as fotografias são indiciais – também o são pinturas, desenhos, estátuas, caricaturas.
O "Único" que continua sempre único reside também em suas partes ou pode transmitir algo de sua presença pelas marcas que são deixadas por qualquer toque. Por isso, o osso da perna (ou de um dedo mindinho) de um deus é também sagrado, como o é também - embora provavelmente em um grau menor - o objeto que foi tocado por ele (como a lasca da verdadeira cruz) ou um retrato que guarda os traços da divindade.
Às vezes os “pedaços” ganham vida própria, esquecendo-se mesmo a origem de seus poderes. O conceito de arte pela arte não seria, de alguma forma, uma manifestação desse fenômeno? A obra surge independente, orgulhosa de seu solipsismo, sem nada a ver com o mundo ou com o seu criador, tomada de vida própria, incriada, como um divino que se profanou mantendo a sua grandeza.
Desse modo, a palavra “fetichismo” aqui pode ser lida tanto por uma perspectiva psicanalítica, no sentido de um investimento libidinal numa parte que é tomada pelo todo, quanto num sentido marxista de atribuição de vitalidade própria às coisas. No momento em que arte e religião se separaram, o místico transformou-se em sentimento estético. Essa é uma das teses principais que estão por trás do artigo de Benjamin – e parece-me correta.
Pode-se acrescentar , todavia, que, no recuo do sagrado, o aparecimento dessa espécie de aura profana não se restringiu ao estético. Que o digam os altos preços alcançados no mercado por sapatos da Madonna (não a Senhora católica, mas a cantora), souvenirs de filmes hollywoodianos, o pênis amputado de Napoleão Bonaparte, apenas para citar alguns exemplos. O chamado star syistem e o mercado como um todo se apropriaram da aura. Objetos únicos continuam auráticos e objetos raros são mais auráticos do que aqueles que existem aos milhares. Objetos raros são objetos caros. Essa é uma maneira de a unicidade do sagrado aproximar-se da lei da oferta e da procura, ou vice-versa ...

Sapatos de Madonna - Em: madonnaever.blogspot.com/2009/12/sapatos-de-m...
Assim, não é a simples existência de uma aura dessacralizada que poderia definir a arte, mas de um tipo de aura, caracterizado por um grau extremo de fetichismo, em que a obra ganha vida e poderes próprios. A aura, no caso, é da obra em si e não algo transmitido pelo autor ou que vem da coisa representada.
O texto de Ferreira Gullar associa diretamente valor de mercado com presença aurática. E aqui também, de novo, está correto. De certa forma, o mercado de arte, desde que se constituiu, sempre soube disso. Não é a toa que as gravuras e bronzes artísticos têm as reproduções limitadas. Há uma estreita relação entre o mito da unicidade e a lei da oferta e da procura, como já lembrei aqui. O raro vale mais. Independentemente de suas qualidades reais e certamente maiores, um Bugatti vale mais do que um fusca ou um dos velhos Fiat 147. Mas esse vai valer muito mais daqui a alguns anos, quando for uma raridade, como um Ford de Bigode. Por isso, o tempo é um instituidor de auras.
Mas essa não é uma relação tão reta assim, não vamos simplificar aquilo que não é simples. Uma foto pode ser mais aurática que uma pintura, quando representa um morto querido, pois é uma imagem arrancada “diretamente” dele. Mas o “original” de uma fotografia, o seu negativo – considerado não naquilo que tem de re-apresentação, mas de produção , de verdadeiramente “original” – é aurático per si. Assim como a primeira edição de um livro, ou os seus manuscritos. Esses podem ser ainda mais auráticos, por trazerem mais diretamente o “toque” do autor. Um original perdido é ainda mais aurático, é como um deus envolvido pelo mais profundo dos mistérios.
Insinua-se aqui uma distinção, entre a aura da obra única e a aura do autor, entre o ídolo que se esqueceu de haver um deus anterior a ele e a relíquia.

Differents versions of The Mona Lisa - Em: perfumequeen.wordpress.com/2008/12/