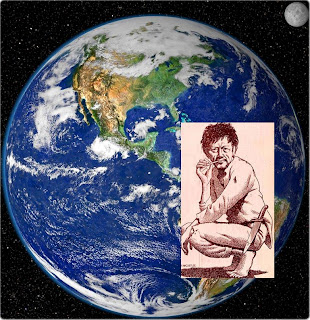De algum tempo para cá, passei a notar na imprensa algumas discussões a respeito de determinados escritores contemporâneos poderem ser chamados de “regionalistas” ou não. Na verdade, não sei se esses textos são manifestações de um fenômeno recorrente que eu não percebia antes, se constituem alguma nova moda entre os resenhistas ou se respondem efetivamente a uma tendência verificável em nossa literatura mais recente.
Esse é um debate que me parecia silenciado, algo demodé. Todavia, tendo em vista as abordagens mencionadas, o que talvez se deva perguntar, no fundo, é se o adjetivo “regionalista” ainda faz algum sentido como categoria crítica - e em que situações isso pode ocorrer.
Primeiro, chamou-me a atenção uma resenha de Vivien Lando, publicada na “Ilustrada”, sobre Galiléia, de Ronaldo Correia de Brito. De acordo com aquela articulista, o romance “(...) felizmente, passa longe do new regionalismo que tentam lhe atribuir: se finca no presente e permanece atento a uma realidade na qual, até segunda ordem, a globalização é soberana.”
Depois de algum tempo (em 14/02/2009), no mesmo caderno da Folha de S. Paulo, apareceu artigo de Sylvia Colombo com o título “Contra o regionalismo”, sobre o novo livro de Milton Hatoum, A Cidade Ilhada, o primeiro de contos desse autor. Segundo o texto, o escritor amazonense rejeita o rótulo de regionalista. "Graciliano Ramos não foi regionalista, mas um escritor brasileiro e universal, assim como Machado de Assis" – afirmou Hatoum em entrevista que integra o texto.
Mais recentemente (25-02-2009), na Veja, foi dada continuidade ao tema, em artigo intitulado “Minha terra tem primores”, em que Jerônimo Teixeira, tomando visivelmente posição contra Hatoum, entrou na liça para defender que “(...) os escritores não gostam de ser qualificados de regionalistas, mas a própria resistência ao termo prova que ele ainda tem algum sentido”.
O argumento é um tanto quanto exdrúxulo. Vamos supor que alguém seja jupiteriano. Se o chamam de marciano, apenas por que não nasceu na Terra, e ele argumenta o contrário, seria muito estranho supor que essa argumentação comprove que seja marciano ou mesmo que os marcianos existam.
Além de responder ao texto da Folha sobre Hatoum, o artigo da Veja volta suas baterias para o pernambucano José Luiz Passos, o pernambucano Ronaldo Correia de Brito e o gaúcho Vitor Ramil. É assim mesmo que são designados os autores na legenda da ilustração que encabeça a resenha, devidamente marcados por esses gentílicos. Na figura, fotografias de seus rostos surgem encabeçando caricaturas com vestes estilizadas dos vários estados em questão, numa espécie de reforço visual do que é dito pelo texto.
Infelizmente, confesso que ainda não li os livros citados, exceto o de Ramil, Satolep, cujo título é justamente “Pelotas” ao contrário. A análise de Satolep, texto inventivo e provocador, mas bastante diferente do universo ficional de Hatoum, por si só exigiria uma abordagem específica. Assim, não pretendo discutir as qualidades artísticas dos livros indigitados, embora suspeite, dada a qualidade desse ficcionista, que os contos de Hatoum sejam bem melhores do que a mediocridade que Jerônimo Teixeira lhes atribui. Vou me limitar aqui a questionar o uso desse adjetivo, sobre o qual se afirma fazer sentido justamente porque há resistência ao seu uso. A discussão é realmente batida, mas vejamos se dela é possível tirar, se não uma caipirinha, pelo menos uma limonada.
Primeiro, há de se considerar que o termo “regionalismo” pode significar muita coisa e, ao mesmo tempo, não dizer nada, se não se precisarem quais de suas múltiplas acepções encontram-se em jogo em cada caso. Em nossa história literária, houve, em diversos momentos e respondendo a diferentes desafios históricos, várias propostas estéticas e ideológicas que, de maneira bem clara, buscaram mimetizar literariamente as falas de algumas regiões ou abordar temas fortemente enraizados em determinadas partes do país.
É o caso, por exemplo, de um Valdomiro Silveira, prosador hoje quase esquecido, que, além de ficcionalizar a vida do interior de São Paulo, tentou recriar aquilo que considerava um autêntico dialeto caipira. Nesses casos, quase sempre, está-se diante de alguma forma de realismo, na medida em que, pelo tratamento linguístico, pela escolha do assunto, ou por ambos, o que se almeja é aproximar-se de uma certa realidade. Esse é o realismo que se pode também encontrar nos românticos Alencar e Franklin Távora, embora em graus e cores diferentes.

O real é como um barro que se cola e dá vida ao texto. Num momento em que um dos papas do estruturalismo, Tzvetan Todorov, vem a público defender que a literatura precisa de vida, que é pura imanência, não há como desprezar isso. Quero dizer que todo texto carrega, de alguma forma, um sonho referencial. É possível uma ficção inteiramente desgarrada, sem quaisquer índices locais? Creio que não, eles podem ser os mais esgarçados possíveis, mas no final sempre sobra, pelo menos, a língua, como um marcador de origem e de destino, a denunciar aquilo que se pode pretender negar.
E aí vem uma platitude: o regionalista é aquele que busca o real numa região, num pedaço de terra marcado por uma história, por uma paisagem, por uma tragédia ou uma comédia bem particulares. Pode ter uma visada mais “de dentro”, ou mais “de fora”, mas sempre marcada, de algum forma, por um certo exotismo para quem é “de fora” (e todos nós, de uma alguma maneira, sempre estamos “fora” de qualquer coisa, até mesmo de nossa imagem, que só podemos ver pelo espelho).
Nesse sentido, qualquer escritor é regionalista – ainda que fale daquele Marte de onde se supunha vir o nosso hipotético jupiteriano de agora há pouco.
Mas aí há uma contradição talvez insuperável: como notou Barthes, como nenhuma palavra pode corresponder ponto a ponto ao seu objeto, o real é sempre aquilo que resiste, que se esconde, que não se pode mostrar. Uma “região”, como qualquer realidade abordada ficcionalmente, acaba, assim, configurando-se mais nas entrelinhas que nas descrições e palavras “regionais”. Um romance que não consiga inscrever o não-dito, se não soa fake, acaba por ser medíocre, por interessar apenas a uma leitura superficial da “região”. Essa é a acepção de “regionalista” de que, sem dúvida, os autores fogem como Lampião da volante.
Alguém tem dúvida de que a qualidade de qualquer arte consiste na habilidade de capturar e sugerir o equívoco, o indizível, o que excede as palavras ou falta nos retratos mais “realistas”? Talvez o adjetivo “universal” - que Jerônimo Teixeira chama de “gasto e vago” e do qual Hatoum lança mão em sua entrevista à Folha para qualificar a obra de Machado de Assis - tenha a ver justamente com essa qualidade. Afinal, o “universo”, infinito ou não, ou mesmo uma “região” não podem ser cobertos por palavras, por fotografias ou por tintas, neles sempre algo falta ou sobra. Grande Sertão:Veredas é grande não pelo que tenha de explicitamente regional, mas por aquilo que cria de vacilação e de dúvida, ou pelo modo como usa esse “regional” para fazê-lo.
O “regionalismo” da chamada Geração de 30, segundo Teixeira, teria atingido tal qualidade, que pode ter ficado pesado para os escritores atuais. Seria, assim, uma espécie de pai tão possante de que dele se deve fugir. Todavia, esse "regionalismo" é de certa maneira, um rótulo aplicado pela história literária a uma caixa onde se guardam gatos e sapatos. A literatura daquele momento atendia a demandas históricas específicas, diferentes daquelas, por exemplo, dos chamados regionalistas do pré-modernismo. Alguns escritores daquele momento talvez tenham assumido o rótulo de forma mais programática, mas outros o receberam de maneira indiferente, negligente, ou mesmo a contragosto.
Mas se os escritores atuais não se intitulam regionalistas, por que se buscou a categoria ao abordá-los? Ganhou-se algo com isso ou apenas se deu vazão a um preconceito que não se consegue explicar?
Se romances passados em São Paulo e no Rio de Janeiro não são regionalistas, o que se depreende é que a “região” se oporia à “cidade” ou pelo menos a determinadas cidades - e não à “capital” (que, no caso brasileiro, desde a década de 1960 é Brasília, como todos sabem). O Brasil “profundo” (o que quer que venha a ser isso) seria, então, a roça, o sertão. Desse modo, cidades menores, menos urbanizadas ou de povoação menos européia seriam candidatas à “região”?
No limite, alguém pensaria em chamar Woody Allen de regionalista, por que retrata em muitos de seus filmes personagens que vivem ficcionalmente numa determinada região dos Estados Unidos? Ou isso é impossível porque essa região é muito central para o mais central dos países deste momento histórico?
Ou seja, os critérios discutidos (e discutíveis) para definir o “regionalismo”, além de imprecisos, por definição marcados por uma ótica centrista, podem resvalar em visões preconceituosas, por vezes tão caricaturais quanto o ato de vestir com trajes “típicos”, numa ilustração, quem talvez nunca os tenha usado. A palavra “regionalista”, usada desse modo, é totalmente inútil como ferramenta crítica. A caricatura pode ser um poderoso instrumento de análise do real e de desvelamento daquilo que se quer esconder, mas precisa saber o que está fazendo, precisa saber que é caricata. Ela não se casa bem com idéias preconcebidas.
O conceito de “regionalista” só se sustenta, desse modo, quando aplicado, com plena consciência de seus limites, por convenção, na abordagem de um cânone bem específico – e mesmo assim com todo o espaço possível para a discuti-lo ou negá-lo. Ou talvez possa ser usado no caso de autores que assim se definam por causa de uma determinada proposta estética. Nesse sentido, quando um homem negro (ou judeu ou índio) se qualifica assim, o faz por afirmação, mas, quando um branco o chama dessa maneira, com ou sem consciência do que faz, numa situação que não precisaria fazê-lo, geralmente o que acontece é uma diminuição de tudo o que o adjetivo poderia significar. Normalmente, ninguem fala no “branco Fulano”, mas apenas em “Fulano”, e quando se menciona o “negro Beltrano” (ou o “judeu Beltrano”), isso significa menos que “Beltrano”, ou que simplesmente “homem”, que é um conceito mais geral.
Nesse balaio de gatos, se se recusa como categoria o “universal” por desgastado e impreciso - como o fez o articulista da Veja - , por que ancorar toda uma argumentação num conceito tão roto e mal definido quanto o “regional”?
Caso se queira dizer que um livro é ruim ou pelo menos falho em certos pontos, é melhor fazê-lo diretamente, sem recorrer a determinados rótulos.
Se “regionalista” se referir àquele escritor que não conseguiu sair da frente do espelho ou fazer mais que uma canhestra pintura “realista” de uma região, então talvez seja melhor dizer de uma vez que ele não conseguiu mais do que isto, que é um narcisista bobo, um vendedor de exotismos ou um mau pintor, guardando-se o rótulo para usos mais específicos.
O mais é conversa fiada.