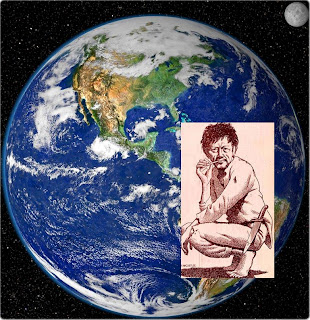Reprodução de Infinitozinho, nanopoema de Julio Manzi
Reprodução de Infinitozinho, nanopoema de Julio ManziEm março deste ano, foi criado aquele que alguns chamam de o “primeiro nanopoema do Brasil”.
Julio Manzi, seu autor, é o pseudônimo artístico de Giuliano Tosin, aluno de doutorado do Instituto de Artes da Unicamp, onde desenvolve tese com o título Transcriações: reinventando poemas em meios eletrônicos.
Não é a primeira experiência com nanoescritura (também chamada de nanowriting) no mundo. Além de uma Bíblia que foi convertida por cientistas israelenses ao tamanho de um cristal de açucar, por meio de um programa de computador chamado Technion, é possível lembrar pelo menos um caso mais próximo da experiência brasileira, no qual um poema "comentava" a pequenez do suporte, um hai-kai gerado na Universidade Cardiff, Reino Unido, em 2007 - na verdade uma brincadeira quase infantil e um pouco egóica, visivelmente elaborada apenas para ilustrar o potencial da tecnologia, conforme se pode ver na reprodução a seguir.
 O nanopoema da Universidade de Cardiff
O nanopoema da Universidade de Cardiff
Fonte: www.cardiff.ac.uk/news/articles/royal-society...

Página da nanobíblia israelense
No caso brasileiro, bem mais consequente, o quase oxímoro “infinitozinho”, retirado de um poema de Arnaldo Antunes, foi esculpido em um nanofio de fosfeto de índio bombardeado por um feixe de eletrons. O experimento aconteceu no Centro de Nanociência e Nanotecnologia César Lattes, onde Luiz Henrique Tizei, doutorando no Instituto de Física, realizou a gravação no nanofio desenvolvido pelas pesquisadoras Thalita Chiaramonte e Mônica Cotta.
O poema de Arnaldo Antunes já recebera várias versões transsemióticas do próprio autor. Primeiro, foi uma das criações intituladas Caligrafias, na passagem dos anos 1980 para os anos 1990. Em 1999, reapareceu na forma de instalação com cerca de seis metros de altura, com letras de alumínio pintadas, durante a II Bienal de Artes Visuais do Mercosul, em Porto Alegre. Em seguida, encarnou-se num totem de 125 cm, integrante da exposição Múltiplos, inaugurada em 14/02/2004, na galeria Laura Marsiaj Arte Contemporânea, com as letras agora em aço-carbono.
Na sua transcriação por Julio Manzi, a palavra foi esculpida num intervalo de 35 por 440 nanômetros. Para se ter uma idéia do que isso significa, um nanômetro é um milionésimo de milímetro, algo que caminha, realmente, para o muito, muito pequeno – para o “infinitozinho” escrito no fio.
Por isso, o poema somente pode ser lido a partir de imagens geradas por um sofisticado microscópio eletrônico (talvez, o mais correto fosse falar, no caso, em. nanoscópio...). O próprio autor, todavia, anunciou que inicialmente elas serão divulgadas impressas, inclusive na forma de banners, como um poema-cartaz .
O trabalho foi noticiado principalmente como um feito científico em cadernos de jornais e páginas da Internet voltados para ciência e tecnologia. O resultado propriamente estético ficou, desse modo, obscurecido. Aqui, contudo, pretende-se refletir um pouco sobre ele, pois, se infinitozinho é uma inovação quanto ao uso da tecnologia, cabe perguntar, por outro lado, em que bases ele se constitui enquanto obra poética.
Nesse sentido, é fácil reconhecer que o experimento filia-se a uma corrente que, no Brasil, vai do concretismo dos anos 50 à infopoesia mais recente, passando por diversas formas de poesia visual, desde aquelas corporificadas na página impressa até as que, depois, apropriaram-se criativamente de novas tecnologias, como o vídeo, a holografia e o computador.
Nesse universo, desde cedo disseminaram-se as traduções de poemas de uma mídia para outra. Haroldo de Campos foi quem difundiu o termo “transcriação” para falar da tradução poética entre diferentes espaços semióticos, seja essa passagem realizada entre línguas seja entra suportes técnicos distintos. Assim, a operação de tradução, mais que o transporte de sentido de entre duas linguagens, na busca de uma impossível correspondência de signos entre uma e outra, exigiria recriar na linguagem de destino estruturas materiais existentes na de origem, como aliterações, assonâncias, rimas, visualidades. Essa proposta teve Julio Plaza como um dos seus principais cultivadores e teóricos, explorando tecnologias nascentes, algumas das quais já obsoletas nos dias de hoje, como o videotexto. Plaza divulgou o termo “tradução inter-semiótica” para designar as migrações poéticas entre diferentes mídias, definindo-a como “pensamento em signos”. Sob essa perspectiva, seja numa outra língua ou numa outra tecnologia, não há como simplesmente repetir os pensamentos de origem. Um sistema sígnico é historicamente produzido. Traduzir é recontextualizar culturalmente as formas artísticas marcadas por diferentes momentos, de modo que o projeto tradutor é sempre um “projeto constelativo entre diferentes presentes”.
Disso, podem-se tirar várias conclusões, dentre as quais vou destacar algumas. A primeira é que toda tradução é também diálogo entre os próprios meios expressivos e códigos em que as obras se inscrevem, que têm dessa forma a sua relatividade desvelada. A segunda é que, apesar de radicalmente embebida de seu sistema sígnico, uma obra pode sobreviver-lhe nos diálogos que esse sistema entabula com outros por meio da tradução, de tal sorte que se pode mesmo dizer que uma das possíveis provas de fogo da relevância de um poema é ele ainda ser capaz de continuar seduzindo e gerando sentidos mesmo depois que o sistema signico de origem se torne obsoleto - como o videotexto de Plaza, ou o grego de Homero.
Se cada poema, todavia, está fortemente ligado ao meio de origem, o que garante então a possibilidade de transcriá-lo num outro? Como conciliar a materialidade poética com a transitoriedade e historicidade dos suportes quando se trata do fenômeno da tradução? Se um determinado poema depende solidamente de sua mídia de origem, como recriá-lo em outra?
No caso da transcriação de Julio Manzi, pode-se dizer que essa possibilidade foi garantida pelo caráter visual dos poemas de origem e destino, ancorados na exploração das potencialidades espaciais e temporais trazidas ao olho pelas plataformas utilizadas.
A exploração poética da visualidade existe desde os tempos mais remotos, mas é certamente apenas no século XX que ela ganhou força, armando-se muitas vezes de sofisticados arcabouços teóricos e espraiando-se por diferentes estéticas e movimentos. Todo poema escrito não deixa de ser "visual", mas esse adjetivo é usado de forma particular e categorizadora sempre que seus elementos gráficos (espaçamento na página ou na tela, design das letras, cores, entre outros) ajudam a compor a mensagem ou são mesmo o principal dela. A geração de sentidos, nesses casos, é possível de muitos muitos modos, porém, de uma forma bastante simplificada, pode-se dizer que as duas principais vertentes, imbrincadas em boa parte dos casos, amparam-se em formas lógicas que podem ser chamadas de ideogrâmica e pictogrâmica.
A composição ideogrâmica, no Brasil, é herdeira direta da poesia concreta, em que a palavra torna-se a menor unidade do sentido e passa a gerar interpretantes pelo seu ordenamento no espaço gráfico, numa forma de sintaxe relacional assimilada ao funcionamento montagístico do ideograma chinês segundo as teses de Fenollosa e Pound. De acordo com essa concepção, o ideograma instaura sentidos a partir do relacionamento paratático entre formas, num procedimento de síntese, em contraposição aos movimentos hipotáticos e analíticos que dominam a sintaxe e a escrita ocidentais. Essas relações podem-se configurar tanto pela apreensão simultânea dos elementos quanto pela sucessão de quadros, como acontece também com a montagem cinematográfica (é o caso, por exemplo, de LIFE, de Décio Pignatari). Nesses poemas, o choque de imagens, concomitantes ou sucessivas, é capaz de gerar tanto uma idéia quanto uma simples qualidade estética não verbalizável, numa espécie de paralelo poético de certo tipo de pintura abstrata (casos daquelas criações que Philadelpho Menezes classificou sob a rubrica geral de “poemas colagem”, em seu livro Poética e visualidade).
Foi desse modo, ao explorar as potencialidades semânticas do espaço e da sucessão de planos, que a poesia visual que, num primeiro momento, relacionava-se com a página, passou depois a explorar espaços tridimensionais e as possibilidades temporais de montagem proporcionadas pelo vídeo e pelo hipertexto. Houve casos mesmo em que chegou a prescindir da própria palavra, buscando a geração de sentidos a partir do simples relacionamento entre formas que, do universo verbal, retiraram apenas os movimentos lógicos básicos, configurados em operações sintáticas como as dos chamados “poemas processo”.
A montagem, nesse sentido, apesar de depender diretamente das características visuais, tem uma clara índole construtivista, pouco ou nada dependendo da figuratividade. Esse não é o caso daquelas composições chamadas aqui de pictográficas. Um pictograma é uma representação gráfica de um objeto que o significa por semelhança fisionômica, por meio da estilização de seus traços básicos. A semelhança de forma entre a imagem gráfica do poema e a idéia que ele veicula aparecia desde épocas remotas e chegou a diversas manifestações contemporâneas, passando pelos caligramas de Apolinaire, apenas para lembrar um exemplo muito conhecido. Na poesia brasileira, são o casos, por exemplo de OVONOVELO, de Augusto de Campos, ou do poema BOMBA, também de Augusto, em que as palavras explodem na página, em sua versão original, ou em vídeo na sua tradução intermidiática posterior, que incorporou movimento e som.
Vale dizer que todas esses experimentos desenvolveram-se a partir de uma perspectiva vanguardista de busca do novo, amparada tanto na reciclagem de formas e materiais do passado, quanto na experimentação com linguagens e materiais novos. O primeiro caso explica, em parte, a intensa atividade de tradução dos concretistas, empenhados em constituir um novo paiudeuma. O segundo materializa-se na exploração das novas tecnologias.
O poema de Arnaldo Antunes surge quase como um ícone dessas passagens, na medida em que originalmente foi concebido para o papel, para depois migrar para o mundo tridimensional e reencarnar-se agora, de forma inédita, num novo material, como é o caso do nanofio.
Tanto o original de Arnaldo Antunes quanto a sua tradução por Julio Manzi são obras organizadas a partir das principais técnicas do poema visual, apesar de o segundo somente poder ser visto de forma indireta, por escapar à capacidade do olho humano. Todavia, entre um e outro – e não poderia ser diferente – há deslocamentos, oriundos não apenas das difereças entre os meios empregados, mas também entre os próprios gestos que os conformam.
No caso da instalação apresentada por Antunes em Porto Alegre, há uma espécie de jogo irônico entre o significado de “infinitozinho” e as proporções da instalação. A idéia de infinito grafa-se numa estrutura finita, apesar de grandes dimensões, com o diminutivo a chocar-se com os muitos metros em que se estende o poema. O infinito torna-se “zinho” porque paradoxalmente limitado, ainda que grande. Um infinito de seis metros, afinal, só pode ser anão... E poderia um poeta, um homem, pretender criar uma representação do infinito sem sufixá-la com algo indicativo de sua (dele, homem, dela, representação) pequenez?
No poema transcriado em nanofio, a extrema pequenez do suporte, não assimilável pelo olho nu, como que tenta iconizar o sentido veiculado pela palavra que nele se esculpe. O novo poema, assim, mais do que tradução, faz-se comentário sobre aquele de origem. O que se transcria, de certo modo, é a capacidade de o tamanho do suporte dialogar com a palavra que nele se inscreve, mas agora dotada – e poderia ser diferente? – de um novo sentido. Perde-se ironia, mas procura-se acrescentar uma impossível adequação entre forma e conteúdo, pois, se o muito pequeno não chega ser o infinitamente pequeno, sem dúvida faz jus ao diminutivo.
O suporte faz-se comentário da mensagem e vice-versa, numa espécie de trocadilho visual - ou indiretamente visual, pois, no caso, como já mencionado, o olho não tem como captar sem alguma prótese a pequenez da palavra. Há no poema, desse modo, um reforço semântico e uma sintaxe imagética que são muito próprias daquela poesia visual aqui chamada de pictogrâmica.
A primeira vez que vi as reproduções do infinitozinho de Manzi lembrei-me de um poema trazido a uma aula, há muitos anos, pelo já falecido professor Philadelpho Menezes, ele mesmo um cultor e teórico da poesia visual. Chamava-se Crush e não passava de uma latinha esmagada do refrigerante de mesmo nome, bastante conhecido na década de 1970. Não lembro o nome do poeta, pesquisei na Internet e não consegui localizá-lo, mas de qualquer modo a citação é válida. O significado da palavra crush (em inglês, “esmagar”, “amassar”, “quebrar”) foi iconizado no próprio suporte. Não deixa de ser o mesmo procecimento adotado por Júlio Manzi na inscrição no nanofio, com a diferença apenas que, no primeiro caso, de certo modo, “adequou-se” o suporte ao vocábulo nele escrito e, no segundo, buscou-se, num outro poema, uma palavra adequada, para escrevê-la em um novo meio tecnológico.
No caso de Crush, além de uma leitura mais imediata, pode-se interpretar uma crítica aos signos da sociedade de consumo, personificados no esmagamento de uma marca conhecida, que ganha um novo significado ao ser inserida num outro circuito significante. O que é possível ler em infinitozinho, além da possível loa ao poder técnológico vislumbrada pelos órgãos de comunicação que noticiaram o feito brazuca?
Importa reconhecer o figurativismo presente em ambos os procedimentos, o de Manzi e o do autor de Crush. Nos dois há semelhança entre suporte e mensagem, entre signo e objeto. No caso de infinitozinho, cabe perguntar que interpretantes ele pode gerar do ponto de vista de uma reflexão estética que vá além da simples ilusão fisionômica.
Deve-se reconhecer que, no trajeto da poesia visual, determinados procedimentos acabaram por revestir-se de automatismo, a ponto de se transformarem quase numa fôrma. A palavra “serpente” escrita com sinais alongados e coleantes ao longo da página seria um poema? E se grafarmos GRANDÃO, de algum modo, com letras colossais, numa das faces do Burj Dubai, o maior edifício do mundo? E se, por outro lado, escrevermos “pequenininho” no mesmo lugar, usando notas de um dólar fora de circulação?
Um poema deve buscar mais do que tão somente a adequação física da roupagem ao conteúdo. Para lembrar Pound, ele tem de ser forma carregada de significado – ou, em outras palavras, de possíveis sentidos, possibilidades de leitura. Se a arte é ícone, essa palavra não deve ser compreendida apenas como representação por semelhança, mas, peirceanamente, como qualidade de sentimento, capacidade de indeterminação e de inseminação. O jogo icônico pode revestir-se de múltiplos simbolismos, alimentando-se inclusive de notas irônicas, como no caso da palavra LIXO inscrita no LUXO, da obra de Pignatari ou na inadequação entre o tamanho da instalação e o significado mais imediato de infinitozinho no poema-instalação de Arnaldo Antunes.
Desse modo, o que mais poderia dizer o infinitozinho de Júlio Manzi?
Como já lembrado, o poema, ao buscar um efeito figurativo direto, inscreve-se numa certa linhagem da poesia visual. Entretanto, trata-se de uma obra que não pode ser vista – pelo menos não diretamente -, motivo por que o próprio autor fala em divulgá-lo por meio de banners ou cartazes. Contudo, ao contemplar essas representaçoes, as pessoas estarão vendo o poema? O próprio microscópio eletrônico que o filmou é uma mediação complexa que, ao trazê-lo perante o olhar do observador, desveste-o de sua característica principal, a pequenez quase infinita.
Se pensarmos numa tipologia das artes de acordo com a sua reprodutibilidade, poderíamos dividi-las instrumentalmente em três grupos, cientes de que as fronteiras entre cada um deles são bem mais difusas do que poderiam parecer à primeira vista.
O primeiro se compõe daquelas que se corporificam num exemplar único. Pense-se, nesse sentido, numa estátua de mármore ou num quadro a óleo.Ao contrário do que poderia dizer um benjaminiano superficial, mesmo em nossa época de quase onipresentes meios de reprodução, não dá para confundir a Monalisa com a sua reprodução em uma enciclopédia – e mesmo uma cópia muita bem feia por um expert não é o original, tem de se declarar como cópia ou será uma fraude. Podemos dizer que isso é um mero reflexo da sociedade capitalista, de uma aura autoral que se converte em mercadoria, mas não mudará o fato de que se trata de obra única, embora passível, até certo ponto, de reprodução.
O segundo grupo constitue-se de obras de reprodução intencionalmente limitada. São os casos dos bronzes e das gravuras. Trata-se, no caso, de uma restrição mais legal do que propriamente técnica, visando a preservar a aura (e o valor de mercado) do original. Ninguém pensa em colocar limites, por exemplo, no número de cópias a serem produzidas por injeção de plástico a partir de um molde metálico, fruto de design industrial, como brinquedos, vasilhas para microondas, dentre outros utensílios da vida cotidiana contemporâne. Todavia, um bronze produzido além do limite legal, ainda que perfeito, será considerado sempre uma cópia. Nesse caso, como no anterior, escassez de exemplares e valor artístico se encontram para se converterem em valor econômico.
O terceiro é o daquelas que vivem em todas as suas cópias, independentemente às vezes até do meio técnico utilizado. Um poema como José de Drummond é sempre reconhecido como o mesmo, reproduzido que seja num livro de capa dura, numa edição de bolso, na tela do computador, num CD com a voz de um astro da TV ou num LP, lido pelo próprio poeta. Podemos ter um atitude mais reverencial ao ouvir o próprio Drummond declamar a sua obra, podemos talvez cuidar melhor da reprodução num volume caro do que da outra, num livrinho de bolso – mas jamais teremos dúvida de que se trata, no fundo, do mesmo poema e que nenhum de seus avatares é mais ou menos original do que o outro. O poema é uma forma-conteúdo que se pode depositar em múltiplas traduções – a leitura do autor, a leitura do ator, a impressão em papel bíblia ou paperback – sem deixar de ser ele mesmo. Foi concebido para a reprodução, ainda que haja um culto pelo original manuscrito (ou datiloscrito) e pela primeira edição.
Isso acontece também com músicas e filmes, que continuam reconhecíveis como os mesmos, veiculados por quaiquer meios, ainda que possam perder algo de sua inteireza original, como é o caso, por exemplo, de filmes que tenham sido esteticamente concebidos para explorar todos os limites da tela grande e que sejam exibidos no monitor de um netbook. Ou mesmo que, sem dúvida, exista caráter autoral na interpretação de uma mesma canção por diferentes intérpretes – caso em que cada versão, por si só, emerge como uma obra performática única.
Historicamente, pode-se dizer que há um desdobramento que vai das obras singulares àquelas criadas para serem reproduzidas em inúmeras cópias, disseminadas principalmente quando da emergência dos meios de reprodução técnica para as massas.
Os poemas visuais concebidos para suportes diferentes do papel podem tornar-se formas híbridas, caminhando para o primeiro grupo, o das obras únicas. Como, muitas vezes, são traduções de trabalhos criados originalmente para livros ou revistas, o seu percurso desenvolve-se, de certo modo, à contrapelo do movimento histórico mais amplo dos suportes artísticos, em que a reprodutibilidade técnica surge como um fenômeno tardio. O próprio infinitozinho de Arnaldo Antunes ilustra o fenômeno – como se viu, teve versões em papel, escultura gigante, totem de aço reproduzido em dez cópias numeradas - antes de ser traduzido no nanofio. Na sua versão de seis metros, o poema poderia ser obviamente remontado em qualquer outro lugar, mas certamente a sua reprodução seria dificultada pelas grandes dimensões e pelo material envolvido.
Todavia, é na transcriação de Júlio Manzi que se acentua o aspecto de obra irreprodutível. Irreprodutível não apenas porque o sentido primeiro do poema depende de seu aspecto minúsculo, para além dos olhos humanos, mas também devido à precariedade de sua escrita, que, embora gravada a laser em letras de forma, tem toda a indefinição e inacabamento de uma caligrafia titubeante. Compare-se, nesse sentido, o poema brasileiro com o seu irmão britânico da Universidade Cardiff, com os seus caracteres tipográficos precisos, industriais, certamente traçados de maneira prévia antes de sua gravação final na versão nanoscópica.
Ainda que se tentasse refazer infinitozinho em um outro nanofio, como reproduzir o movimento humano que o gerou em sua forma específica, marcada pelo titubeio e pela imprecisão, com letras de diferentes tamanhos e traçados, com sua impressão digital única? Qualidade que, não custa lembrar, resgata aquela presente na primeira encarnação do poema de Antunes, em que o traço era o rastro de um gesto, relação orgânica entre homem e signo.
Poder-se-ía pensar hipoteticamente numa técnica de reprodução que fotocopiasse as letras originais e as imprimisse de outra maneira em um nano-suporte – mas não seria, no caso, como uma reprodução bem feita da Monalisa ou uma cópia xerográfica de um manuscrito qualquer? Essa, aliás, é a proposta de Manzi para a divulgação do poema, por meio de banners.
Não se pode deixar de pensar que, no caso de uma nanoescrita, cada pequeno desvio adquire uma dimensão, um efeito, que certamente não teria em estruturas maiores. A combinação de características caligráficas com a extrema pequenez transforma, portanto, infinitozinho em um artefato poético cuja reprodução é extremamente difícil ou impossível. O seu aparecimento, ainda que encantado pela tecnologia, é mais um desafio aos limites da representação poética (como, no fundo, devem ser todos os poemas) e da visualidade como procedimento.
Em todas as versões elaboradas por Arnaldo Antunes (poema caligráfico, escultura, totem), a transmissão dos sentidos de “infinitozinho” dependia fundamentalmente de um sentido, a visão – e essa característica era uma denúncia da impossibilidade da “forma” dar conta do “conteúdo”, pois como poderia o olho humano abarcar o infinito? O poema de Manzi, por sua vez, se parece render-se, num primeiro momento, ao canto de sereia tecnológico, procurando assimilar a sua pequenez a uma impossível representação da infinitude, na realidade vai além disso, ao levar os paradigmas da visualidade poética para além do visual propriamente dito e ao transformar-se numa obra que, única, somente se pode dar a conhecer vicariamente, por meio de reproduções em que se perde. Nunca veremos o poema, nem em banners. Assim como a Criação do Homem, de Michelangelo, a menos que formos à Capela Sixtina...
Mas será que alguém o viu?

Infinitozinho, caligrafia de Arnaldo Antunes
.jpg) Poemolotov, de Diego Medeiros - verbalizando-ou-nao.blogspot.com
Poemolotov, de Diego Medeiros - verbalizando-ou-nao.blogspot.com